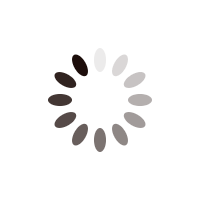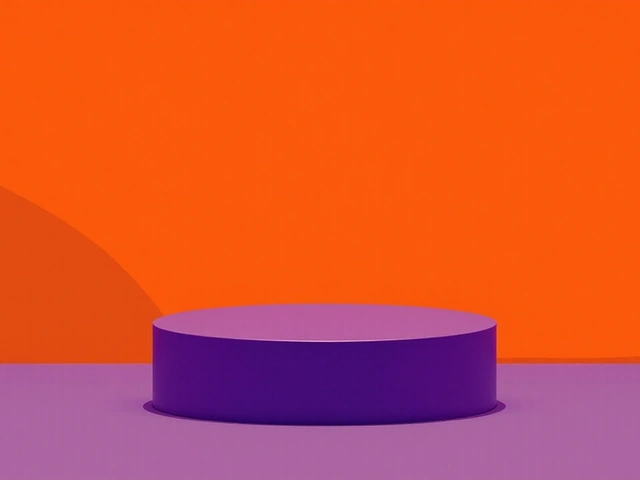Bancos entre OFAC e a lei brasileira: o dólar define o jogo
Bancos brasileiros entraram numa encruzilhada rara: de um lado, a pressão da OFAC, o órgão do Tesouro dos EUA que administra sanções; do outro, a regra doméstica que exige homologação judicial para que medidas estrangeiras valham no país. O estopim foi a inclusão do ministro do STF Alexandre de Moraes em sanções sob a Lei Magnitsky, anunciada por Washington em 30 de julho de 2025. Brasília classificou a iniciativa como ingerência, mas o mercado entendeu a mensagem que, na prática, manda mais que o discurso: quem depende do dólar joga pelas regras do dólar.
Segundo interlocutores do setor financeiro, a OFAC notificou grandes instituições com operações em dólar – incluindo bancos com presença global – para que achem e bloqueiem ativos e transações ligadas ao magistrado. A reação do governo foi dura, com autoridades brasileiras, entre elas Flávio Dino, criticando a medida e reafirmando que sanções estrangeiras não se aplicam automaticamente aqui. Só que a OFAC opera num plano diferente: não precisa de juiz brasileiro para determinar quem pode ou não acessar o sistema financeiro em dólar.
É aí que mora o conflito jurídico. O Superior Tribunal de Justiça entende que ordens estrangeiras precisam de homologação para ter efeito no Brasil. A OFAC, por sua vez, age sobre instituições conectadas ao sistema financeiro dos EUA, direta ou indiretamente, por meio de correspondentes. Na vida real, quase todas as transações em dólar passam por Nova York em algum ponto da cadeia. E o recado é simples: quem ignorar sanção americana pode perder o passaporte para o dólar.
O mercado reagiu rápido. As ações do Banco do Brasil chegaram a cair cerca de 6% após o anúncio, um termômetro do medo de isolamento em infraestrutura crítica de pagamentos. Papéis de outras instituições financeiras oscilaram entre 2% e 8% no mesmo período, refletindo a leitura de que, mesmo com resistência oficial, o risco operacional e reputacional aumenta no ato. Em paralelo, executivos montaram planos de contingência: revisão de fluxos em dólar, advogados especializados em sanções, conversas com bancos correspondentes e reforço de triagem de clientes e listas restritivas.
Para entender o peso dessa disputa, vale lembrar: a Lei Global Magnitsky permite aos EUA sancionar indivíduos e entidades acusados de corrupção grave ou violações de direitos humanos, congelando bens sob jurisdição americana e proibindo americanos de fazer negócios com o alvo. A OFAC também consegue estender o alcance via “sanções secundárias”, punindo estrangeiros que facilitem transações de designados. Essa combinação já custou multas bilionárias a bancos europeus no passado e levou a ondas de “de-risking”, quando instituições preferem encerrar relações de risco a manter negócios incertos.
No caso brasileiro, há um ingrediente político adicional. O embate acontece no meio de atritos entre Washington e Brasília, com o processo contra Jair Bolsonaro ainda irradiando tensão. Relatos sobre medidas comerciais e de vistos adotadas pelos EUA adicionam ruído e ampliam a percepção de que o tema saiu da esfera estritamente técnica. Mesmo assim, no nível do balcão, o que define a tomada de decisão dos bancos é o risco objetivo de perder acesso à compensação em dólar.
Como isso se traduz no dia a dia? Quando um nome entra na lista da OFAC, bancos precisam ajustar seus filtros de triagem (screening) para bloquear ou rejeitar transações e contas relacionadas. Há regras de propriedade e controle (o “50% rule”) que expandem o alcance para empresas pertencentes majoritariamente ao sancionado. Em geral, correspondentes em Nova York disparam alertas, pedem informações adicionais, estendem prazos e, em último caso, encerram relações. O efeito cascata é forte: um blocking em um banco grande tende a ser replicado por outros, por prudência.
Do lado brasileiro, instituições buscam um ponto de equilíbrio: cumprir a lei local e, ao mesmo tempo, não se arriscar com a OFAC. A tese que circula em áreas de compliance é recortar a aplicação às operações que tocam o dólar e à infraestrutura americana, deixando livres, sob a ótica doméstica, relações fora desse escopo. Esse “cercadinho” jurídico-financeiro reduz dano sem afrontar a posição pública do governo. Não resolve tudo, mas dá tempo para a regulação se acomodar.
Essa costura, porém, tem limites. Mesmo operações em outras moedas podem sofrer efeito indireto se o banco correspondente estrangeiro, por política de risco, decidir cortar o relacionamento. Além disso, bancos listados precisam comunicar eventos relevantes e aderir a padrões de governança que exigem consistência global. A alternativa de deslocar fluxos para praças fora dos EUA ajuda, mas não substitui a onipresença do dólar nas cadeias de comércio e de mercado de capitais.
Há também o componente jurídico interno. Sem homologação, sanções estrangeiras não têm força direta para congelar bens no Brasil. Só que o congelamento pode acontecer “por fora”, em contas no exterior, em corretoras internacionais ou em carteiras que circulam por bancos americanos. O resultado é um bloqueio funcional: o alvo continua com direitos civis no Brasil, mas vê seu raio de ação financeira encolher fora daqui. Para pessoas expostas politicamente (PEPs), como ministros de tribunais superiores, o atrito com políticas internas de integridade dos bancos tende a aumentar.
O Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e o Coaf têm papel relevante nessa travessia. Podem orientar o setor sobre como conciliar a lei brasileira com exigências externas, padronizar procedimentos e reduzir o risco de decisões desencontradas. Em crises anteriores – da lista de paraísos fiscais a sanções contra Rússia, Irã e Venezuela – o mercado recebeu comunicados que ajudaram a calibrar políticas. A expectativa é que algo parecido aconteça agora, mesmo em um ambiente mais polarizado.
Para o investidor, três frentes merecem atenção imediata. Primeiro, a evolução do diálogo com bancos correspondentes nos EUA: qualquer sinal de restrição a contas “nostro” em dólar ligaria o alerta máximo. Segundo, comunicados oficiais da OFAC, que podem esclarecer escopo, licenças específicas e eventuais exceções humanitárias ou processuais. Terceiro, o tom do governo brasileiro – quanto mais litigioso for o ambiente, maior a chance de interpretações rígidas do lado americano.
Do ponto de vista operacional, os departamentos de compliance já colocaram no trilho um pacote padrão:
- Refinar o screening de nomes, inclusive com variações de grafia e identificadores adicionais para reduzir falsos positivos;
- Mapear exposição direta e indireta (clientes, fornecedores, veículos de investimento e estruturas de propriedade) à luz da “regra dos 50%”;
- Revisar contratos e cláusulas de sanções com contrapartes e correspondentes estrangeiros;
- Obter pareceres jurídicos nos EUA e no Brasil para documentar decisões e mitigar risco de enforcement;
- Aprimorar governança: comitês de risco dedicados, logs de decisão e comunicação tempestiva a reguladores e investidores.
Há quem enxergue uma saída parcial pela via das moedas alternativas. Ampliar liquidação em euro ou yuan, por exemplo, reduz exposição imediata à jurisdição americana. Funciona para uma parte das operações, mas não elimina o problema: o dólar segue onipresente em comércio de commodities, financiamento externo e derivativos. Segundo o Banco de Compensações Internacionais (BIS), o dólar aparece na esmagadora maioria das transações cambiais globais. Quebrar essa dependência leva anos, não semanas.
No curto prazo, o cenário mais provável é uma acomodação pragmática. Bancos tornam a triagem mais dura para qualquer vínculo com o alvo sancionado, ajustam fluxos em dólar, mantêm conversas discretas com autoridades dos dois países e evitam decisões que possam disparar retaliação financeira. O governo sustenta a tese da soberania e tenta reduzir o custo político doméstico. A OFAC, por sua vez, observa o comportamento do sistema: se o recado pegou, não precisa ir além; se não pegou, tem instrumentos para apertar.
O caso expõe um ponto sensível da arquitetura financeira global: as sanções americanas viraram política pública com efeitos extraterritoriais reais. Para países que não querem importar a briga, a linha entre respeitar a lei local e preservar o acesso ao dólar é cada vez mais fina. E, quando o alvo é uma autoridade de alto escalão, a fricção se multiplica. O Brasil não é o primeiro a lidar com isso. Mas, desta vez, a colisão entre direito, política e mercado acontece no centro do sistema bancário nacional.
Seja qual for a saída institucional – homologação no STJ, acordos de procedimento com reguladores, licenças específicas da OFAC ou um “armistício” de bastidor – a mensagem que ficou para os bancos é pragmática: a jurisprudência do dólar anda mais rápido que a jurisprudência doméstica. Ignorá-la custa caro; dobrá-la sem quebrar a lei local exige técnica, tempo e sangue-frio.